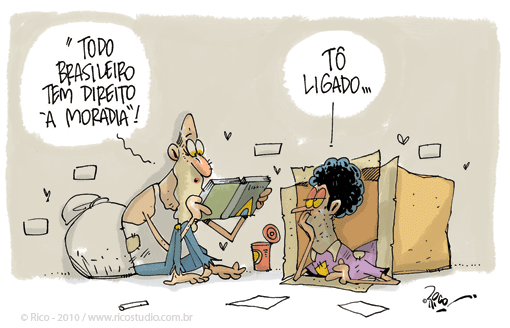A concessão de uso para fins de moradia é um dos instrumentos
utilizados para realização da regularização fundiária, diferenciando-se
por se aplicar a imóveis públicos, cujo domínio não pode ser adquirido
por particular, garantindo, assim, o direito à moradia às pessoas que
residem nestes imóveis insuscetíveis de usucapião.
A origem da concessão de uso especial para fins de moradia se inicia
com a emenda popular de reforma urbana apresentada no processo da
Assembleia Nacional Constituinte de 1987. (SAULE JUNIOR, 2004, p.398).
Na proposta inicial, a posse não contestada por até três anos de terras
públicas ou privadas, com metragem até o limite de 300 m², utilizando
para sua moradia adquiriria o domínio, independente de justo título e
boa fé. Nota-se que nessa proposta não se cogitou a concessão de uso,
simplesmente a usucapião urbana.
Essa proposta não foi aceita, pois com relação à propriedade pública os
Constituintes ainda tinham a postura absolutista do Código Civil de
1916, afirmando que as terras públicas são bens públicos, detendo assim
de inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Portanto,
não é possível a aquisição do domínio sobre tal bem.
Entretanto, mesmo os constituintes assumindo esta posição e não
aceitando a proposta, eles ao menos incorporaram o sentido teleológico
desta emenda popular, reconhecendo o “direito à moradia da população de
baixa renda que mora em assentamentos consolidados para fins de
moradia”, em áreas públicas, através do instrumento da concessão de uso.
(SAULE JUNIOR, 2004, p.400)
Foi instituída então a concessão de uso especial para fins de moradia,
tendo em vista que a usucapião urbana serve para garantir a destinação
social dos imóveis urbanos privados, a concessão de uso vem a atender a
função social da propriedade urbana pública.
Neste sentido, foi consagrado em nossa Carta Magna de 1988 a concessão
de uso especial para fins de moradia, em seu artigo 183, que ficou assim
expresso:
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.
§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. (Grifo nosso)
Desta forma, a concessão de uso passa a ter status constitucional,
garantindo a segurança da posse aos cidadãos que habitam imóveis
públicos, assegurando o princípio da igualdade, conferindo assim,
tratamento isonômico à garantia do direito a moradia, independente do
fato de se estar habitando uma área pública ou privada. (SAULE JUNIOR,
2004, p.399)
2.1. REGULAMENTAÇÃO NO ESTATUTO DA CIDADE
Para conseguir obter um pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana, o Estatuto da Cidade, incluiu entre os
instrumentos jurídicos garantidores da segurança da posse a concessão de
uso especial para fins de moradia. (DI PIETRO, 2006, p.153).
Este instrumento estava disciplinado nos artigos 15 a 20, sendo todos
estes vetados pelo chefe do Poder Executivo. Em seu art. 1º era
assegurado o direito à concessão, sendo somente concedido àquele
possuidor de área ou edificação urbana de no máximo 250 m², utilizando-a
para fins de moradia, de modo ininterrupto e sem nenhuma oposição, não
podendo ser possuidor, nem concessionário de outro imóvel.
Uma das novidades vetadas, como já mencionado acima, está inserida no
Estatuto; Trata-se da concessão coletiva, para quando não fosse possível
identificar os terrenos ocupados por cada possuidor conforme o art. 16:
Nas áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados
situadas em imóvel público, ocupadas por população de baixa renda para
sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não
for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, a
concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma
coletiva, desde que os possuidores não sejam concessionários de outro
imóvel urbano ou rural.
Com relação à saúde e a vida do possuidor, a lei também não foi omissa,
garantindo assim, o exercício do mesmo direito de concessão em outro
local se a ocupação dessa área for de risco, conforme o art. 17: "No
caso de ocupação em área de risco, o Poder Público garantirá ao
possuidor o exercício do direito de que tratam os arts. 15 e 16 desta
Lei em outro local". Ficou ainda estabelecido que a concessão poderia
ser exercitável contra o Poder Público pela via administrativa e no caso
de recusa ou omissão da Administração Pública, pela via judicial (art.
18), podendo ser transferida inter vivos ou causa mortis (art. 19).
No entanto, este direito à concessão não ficou absoluto, de forma que
ocasionaria a extinção nas seguintes hipóteses previstas no seu art. 20:
O direito à concessão de uso especial para fins de moradia extingue-se, retornando o imóvel ao domínio público, no caso de:
I – o concessionário dar ao imóvel destinação diversa da moradia para si ou sua família;
II – os concessionários remembrarem seus imóveis.
Parágrafo único. A extinção de que trata este artigo será averbada no
cartório de registro de imóveis, por meio de declaração consubstanciada
do Poder Público concedente.
Embora os artigos tenham sidos vetados, o Chefe do Executivo reconheceu
no próprio veto a importância da concessão como forma de “propiciar -
segurança da posse – fundamento do direito à moradia – a milhões de
moradores de favelas e loteamentos irregulares”
[2].
2.2.1 O Veto Presidencial
No veto presidencial entendeu o chefe do executivo que a concessão de
uso da forma como estava prevista traria riscos à aplicação,
contrariando assim, o interesse público.
Constatou o Presidente que ao usar a expressão “edificação urbana”,
poderia gerar demandas injustificadas do direito. Veja que seria
inadmissível admitirmos que o possuidor de um edifício construído em um
terreno de 250 m², individualmente, consiga a concessão de uso. Afirma
este que esta expressão tem a finalidade de dar a concessão para os
cortiços em imóveis públicos, no entanto tal benefício já é abrangido
pela concessão de uso coletiva prevista no art. 16.
Com relação à aplicabilidade do art. 17, afirma que o mesmo deve ser
estendido para os imóveis públicos de uso comum do povo, como praças e
ruas, assim como áreas urbanas de interesse da defesa nacional, da
preservação ambiental ou destinadas a obras públicas.
O Presidente ainda afirmou que o Projeto não estabelecia uma
data-limite para aquisição do direito a concessão de uso especial, o que
segundo o ele torna permanente um direito que só é “justificável pela
necessidade de solucionar o imenso passivo de ocupações irregulares
gerado em décadas de urbanização desordenada”.
Por fim, dissertou que não havendo um prazo para que a Administração
Pública processasse os pedidos de concessão, haveria um grande número de
processos a partir da vigência desse instrumento, trazendo risco de
congestionar o Poder Judiciário.
Após tais constatações, foram propostos os vetos aos arts. 15 a 20 do
projeto de lei do Estatuto da Cidade. Contudo, em reconhecimento a
validade do instituto, no próprio veto, o Poder Executivo se comprometeu
em preencher essa lacuna, buscando sanar as imprecisões.
2.3 A MEDIDA PROVISÓRIA 2.220/01
O compromisso assumido pelo Poder Executivo (no veto ao arts. 15 a 20
do Estatuto da Cidade) foi atendido em 04 de setembro de 2001 após
várias rodadas de negociações e a Concessão de uso foi reintroduzida,
por Medida Provisória com força de lei, em nosso ordenamento jurídico.
De acordo com o artigo 1º da referida MP, o direito à concessão de uso especial de moradia é assegurado a:
(...) aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel público
situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua
família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia
em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou
concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.
(Grifo nosso)
Perceba que a MP estabelece uma data-limite para aquisição de tal
direito, sendo assegurado apenas aos possuidores que ocupavam o imóvel
antes de 30 de junho de 1996.
Com relação, a possibilidade de interpretação diversa, a MP substituiu
os termos “área ou edificação urbana” por imóvel urbano. Em síntese:
A disciplina da matéria na Medida Provisória 2.220 é muito parecida com
a que se continha nos arts. 15 a 20 do Estatuto da Cidade, limitando-se
a corrigir as falhas apontadas no veto e acrescentando um dispositivo
para deixar expresso que o mesmo direito à concessão pode ser exercido
em relação a imóveis públicos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios; além disso, foi prevista a possibilidade de autorização de
uso de imóveis públicos para fins comerciais. (DI PIETRO, 2006, p.155)
2.4 A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À CONCESSÃO DE USO PARA FINS DE MORADIA
Necessário se faz interpretação do direito à concessão de uso para que
se possa identificar sua força normativa e aplicabilidade. Vejamos que
conforme ensinamento de Fiore, a interpetação da lei, é a operação que
tem por fim “
fixar uma determinada
relação jurídica, mediante a percepção
clara e exata da norma estabelecida pelo legislador” (LIMONGI, 2009, p. 19) (Grifo nosso).
Analisando literalmente o art. 183 da CF, nota-se que este refere à
aquisição de domínio, trazendo consigo os requisitos necessários para
tal, não fazendo limitação a qual tipo de propriedade a concessão possa
incidir, sendo assim, é possível afirma que estes requisitos são tanto
para propriedade pública como para a propriedade privada, porém, em seu
§1º, há uma diferenciação com relação título de domínio e concessão, o
que, segundo DI PIETRO (2006, p. 159), não é “o título de domínio e a
concessão, por estes serem institutos excludentes”. Tal diferenciação
faz-se necessária pela proibição da usucapião em imóveis públicos em seu
§3º.
Além disto, a concessão é um instituto inserido no capitulo da política
urbana, portanto, seu objetivo é garantir a segurança da posse e o
direito à moradia das populações que moram de forma irregular. A
necessidade deste instrumento surge um para que haja a garantia do
direito à posse em imóveis públicos, já que a usucapião atinge somente
bens privados e os assentamentos não diferenciam áreas públicas e
privadas (PRESTES, 2006, p. 208). Analisando tal tema nos ensina Prestes
(2006, p.207):
É bem verdade que a tradição brasileira não contempla a usucapião de
áreas públicas e a expressão domínio está intrinsecamente vinculada a
aquisição da propriedade. Todavia, a diferença que ora se apresenta
reside no fato de a norma constar na Constituição Federal e inserida no
capítulo da política urbana. Certamente este aspecto introduz uma
diferença com a usucapião tradicional que não tem por escopo atender
princípios da política urbana, mas sim situações individuais amparadas
pela norma civil.
Deste modo, a concessão de uso enquanto instituto da política urbana,
com o objetivo de garantir e efetivar o direito a moradia, é uma norma
definidora de direito, e indo mais além, é um direito subjetivo definido
constitucionalmente, tendo em vista que o conceito de direito subjetivo
tem “a sua idéia central no poder de ação, assente no direito objetivo,
destinado à satisfação de certo interesse.” (BARROSO, 2009, p.99),
Portanto, no momento em que o art. 183 da CF garante a posse àqueles
que cumprem os requisitos neste artigo previsto, ela atribui, a partir
do direito objetivo, um direito a estas pessoas, dando assim, um poder
de ação para a satisfação de seus interesses, neste caso a moradia.
Assim, não é através da regulamentação via MP 2220/01 que a concessão
eleva seu status a direito subjetivo, pois conforme visto acima, a mesma
já é um direito subjetivo desde sua origem constitucional. Sob esta
ótica, pode-se caracterizar a norma do direito à concessão de uso, como
sendo constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Isto
porque ela possui incidência imediata e independe de normatividade
ulterior para sua aplicação.
2.5 ASPECTOS CONTROVERSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.220/01
Sendo a concessão de uso especial para fins de moradia um direito
subjetivo definido constitucionalmente, como aceitar a possibilidade de
uma Medida Provisória restringir a aplicação deste direito?
A limitação temporal que a Medida Provisória 2.220/01 aplicada neste
instrumento é inconstitucional.De acordo com o art. 1º da referida MP,
somente será aplicável o direito a concessão de uso àquele que, até 30
de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição o imóvel para fins de moradia.
A afirmação do Chefe do Executivo para tal limitação foi a de que sem a
tornaria permanente direito á concessão de uso em nosso sistema, e que
este direito só é “justificável pela necessidade de solucionar o imenso
passivo de ocupações irregulares gerado em décadas de urbanização
desordenada”
[3].
Num primeiro momento esta limitação é formalmente inconstitucional.
Para ser inserida tal limitação ao direito constitucional, teria esta
que ter sido realizada por Emenda Constitucional, pois sendo nossa
constituição rígida, não pode esta ser a modificada por uma lei
infraconstitucional.
Num segundo momento, partindo então para o mérito da questão, a
concessão de uso nasce como instrumento de regularização fundiária,
garantidor da posse daqueles que possuem sua moradia em imóveis públicos
urbanos. Esta regularização desses assentamentos irregulares, força o
Poder Público realizar melhorias no seu ambiente, sempre com o objetivo
de efetivar o direito à moradia, atribuindo àqueles imóveis públicos o
exercício da sua função social.
Nessa ótica fica perceptível que o direito à concessão de uso não é
somente um instrumento para o “imenso passivo de ocupações irregulares”,
mas para todo assentamento urbano, em imóveis públicos, que atendam aos
requisitos do art. 183 da CF. Até porque os assentamentos irregulares
não pararam em 30 de junho de 2001. E, se este é realmente o objetivo
contido no art. 183, por que não houve a limitação do usucapião especial
urbano?
Em síntese, o art. 183 da CF define que as pessoas naquelas situações
previstas possuem tal direito, sem limitar seu aspecto temporal.
Portanto de acordo com o caráter supremo de nossa Constituição, esta
limitação advinda da MP é absolutamente inconstitucional.
Leia mais: http://jus.com.br/artigos/25213/a-constitucionalidade-do-aspecto-temporal-na-regulamentacao-da-concessao-de-uso-especial-para-fins-de-moradia-cuem#ixzz2dvqCTVKX