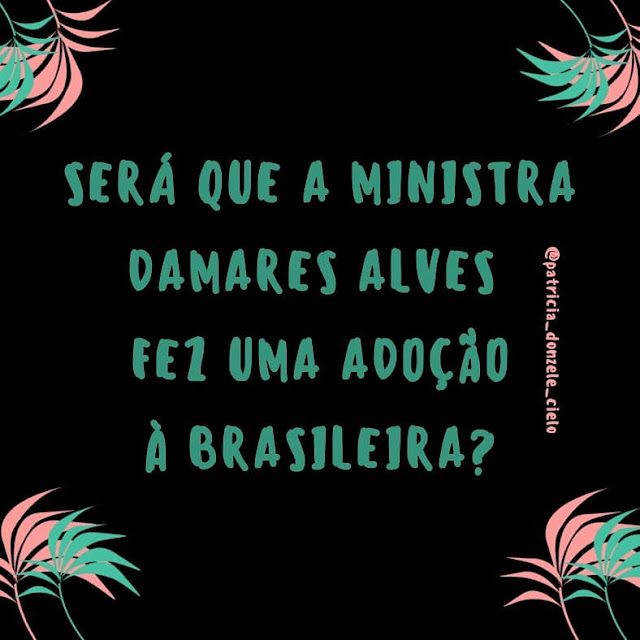Por
Thiago Magalhães Pires
Religião e educação se aproximam em vários cenários, em geral polêmicos: da “escola sem partido” ao ensino religioso no sistema público. Muitas vezes, a discussão gira em torno do conteúdo transmitido pelos professores e da viabilidade de se exigir neutralidade nesse contexto. Mas há outro tema, sobre o qual se reflete menos, e que nem por isso deixa de ser relevante. Ele diz respeito não às convicções dos professores ou das instituições de ensino, mas à fé dos alunos: como proceder quando o estudante não pode comparecer a uma prova ou aula porque sua religião o impede? É o caso, por exemplo, de alunos adventistas ou judeus em relação a avaliações ou aulas realizadas aos sábados. Haveria aqui um direito subjetivo ao abono da falta ou à remarcação da atividade?
A legislação era lacunosa sobre o tema, gerando grande insegurança jurídica às instituições de ensino e aos próprios estudantes. Os problemas que surgiam precisavam ser resolvidos caso a caso, dependendo da flexibilidade dos estabelecimentos e da ponderação de cada juiz. Isso mudou no início de janeiro, com a edição da Lei 13.796/2019. O diploma inseriu um dispositivo (artigo 7º-A) na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394/1996) que, aplicável a instituições de qualquer nível, públicas e privadas, pretende dar uma solução geral para essa questão. Do ponto de vista prático, isso significa que as instituições de ensino precisam adaptar seus procedimentos para atender às novas exigências, prevendo regras e parâmetros para lidar com as convicções de seus alunos. Por si só, essa medida — que é expressamente exigida pela lei — evitará uma série de questionamentos, economizando atritos e recursos ao reduzir a litigiosidade.
Por envolver a liberdade religiosa, um direito fundamental, o tema é particularmente sensível. Nas instituições públicas, o fato de a relação jurídica ser travada entre um particular e o Estado simplifica a equação: o poder público — em todas as suas manifestações — está obrigado a observar os direitos fundamentais dos indivíduos na maior medida possível. Mas, quando a instituição de ensino é privada, o ponto se torna mais complexo — afinal, o que há são dois particulares, ambos titulares de direitos fundamentais: de um lado, há a liberdade religiosa do aluno; de outro, a liberdade de iniciativa do estabelecimento de ensino, que, em princípio, tem o direito de conduzir sua atividade econômica como entender melhor.
Lidar com essas situações é delicado, mas é de se aplaudir a edição de uma lei sobre o assunto: é sempre melhor que a solução venha do legislador, eleito democraticamente para tomar decisões em nome da coletividade. A lei, porém, não pode tudo. Naturalmente, seria um absurdo sacrificar inteiramente a liberdade dos alunos. Mas tampouco se poderia admitir a imposição de deveres desproporcionais aos empresários. Alguma restrição é admissível — às vezes, necessária —, mas é preciso cautela para não avançar além da conta.
Aqui entra em cena a ideia de acomodação razoável. No caso das crenças, a noção de “acomodação” reflete a exigência de que as empresas adaptem sua conduta a fim de viabilizar, a seus empregados ou clientes, o exercício de suas religiões. Já o “razoável” corresponde ao reconhecimento de que há um limite ao que se pode impor: a acomodação só é devida se não gerar um “ônus excessivo” para a empresa. Esse ônus não precisa se traduzir em custos financeiros diretos; pode envolver também, por exemplo, prejuízos relevantes à condução da atividade. O juízo é de proporcionalidade: a gravidade da conduta imposta à empresa (o grau de restrição à sua livre-iniciativa) não pode superar em intensidade o grau de promoção da liberdade religiosa do empregado ou cliente. Estando em choque os mesmos direitos, esse raciocínio também se aplica à relação entre o aluno e a instituição privada de ensino. Esta é obrigada a acomodar a prática religiosa daquele, mas apenas até a medida do razoável, isto é, do ponto a partir do qual se caracterizaria um ônus excessivo.
Pode-se voltar, então, à Lei 13.796/2019. De forma geral, ela se alinha às ideias expostas acima: quando a religião do aluno impedir sua presença em uma aula ou prova, cabe aos estabelecimentos oferecer prestações alternativas que, uma vez cumpridas, substituirão o dever original — isto é, se a falta se referir a uma aula, será lançada a presença do estudante e, se disser respeito a uma prova, sua nota corresponderá à da avaliação alternativa (artigo 7º-A, parágrafo 2º). Além disso, a lei condiciona essa exigência ao “prévio e motivado requerimento” do aluno (artigo 7º-A, caput) e prevê um prazo bastante razoável de dois anos para que as instituições de ensino progressivamente se adaptem às suas exigências (artigo 7º-A, parágrafo 3º).
Nada obstante, o texto legal suscita algumas questões que devem ser enfrentadas — todas iluminadas com auxílio do que se viu até aqui. A primeira delas envolve a previsão do artigo 7º, parágrafo 4º, que excepciona as escolas militares da observância da lei. A invalidade dessa exceção é evidente: não há justificativa para negar aos alunos dessas escolas (e apenas a eles) a fruição de sua liberdade religiosa. Ademais, é uma inversão eximir o próprio Estado do dever de promover direitos fundamentais que ele mesmo impõe a meros agentes privados. Se até o serviço militar pode ser substituído por prestações alternativas
[1], por que a presença de um aluno na escola estaria excluída? Não faz sentido.
Também é preciso ter cuidado com a interpretação das prestações alternativas. Em primeiro lugar, a escolha entre elas cabe ao estabelecimento de ensino: como esclarece o caput do artigo 7º-A, a prestação é atribuída ao aluno “a critério da instituição”, desde que guarde relação com o objeto do dever original (o teor da aula ou o conteúdo aferido na prova), nos termos do parágrafo 1º. Assim, quando a lei prevê a realização de prova ou aula de reposição em outra data, ela não dá ao estudante (ou a seus representantes legais) o poder de definir o que será exigido em lugar da aula ou da prova.
No entanto, caso a instituição opte por uma prova ou aula de reposição, é preciso que ela ocorra no próprio turno de estudo do aluno ou, se realizada em outro horário, que seja agendada com a anuência do estudante (artigo 7º-A, I). Aqui há outra nota importante a se fazer: o aluno não tem direito subjetivo a uma aula particular. É um exemplo claro de ônus excessivo exigir que se desloque um professor — remunerado para lecionar a turmas inteiras — para ministrar aula a uma única pessoa. Vale lembrar que, neste contexto, restrições mais intensas à livre-iniciativa só se justificam para promover de forma igualmente maior a liberdade religiosa. A ausência a uma só aula costuma ter um peso tão pequeno na aprovação do aluno
[2] que exigir da instituição de ensino que incorra em um custo substancialmente maior neste caso superaria qualquer concepção do razoável.
Da mesma forma, a instituição deve se acomodar à religião do aluno, mas não ao seu capricho ou às suas preferências pessoais: se a mesma disciplina for oferecida em outro horário (ou por outro meio, como o ensino à distância) e o estudante não tiver uma razão ponderável para recusar a participação (por exemplo, outra aula na hora, emprego), sua ausência é (e deve ser considerada) um efetivo descumprimento da prestação alternativa, com os efeitos disso decorrentes (falta, nota zero).
Sem prejuízo dessas considerações, a Lei 13.796/2019 é seguramente um avanço no tratamento da liberdade religiosa nas instituições de ensino. Ela preenche uma lacuna relevante no Direito e promove segurança ao dissipar dúvidas sobre a forma adequada de lidar com o tema. Nada obstante, é preciso cuidado — em especial, por parte das próprias instituições de ensino — para garantir, com antecedência, que seus procedimentos estarão de acordo com a adequada interpretação da lei.
[1] CRFB, artigo 143, parágrafo 1º.
[2] Para a educação básica, a frequência mínima é de 75% das horas letivas (Lei 9.394/1996, artigo 24, VI).
Thiago Magalhães Pires é sócio do Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça & Associados, professor de Direito Constitucional, e doutor e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
Revista Consultor Jurídico, 31 de janeiro de 2019, 12h27